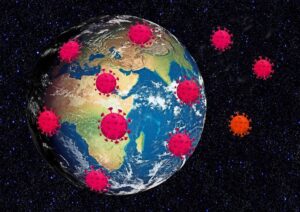
A epidemia que neste momento grassa pelo mundo é, para a quase totalidade das pessoas vivas, um fenómeno novo, pois raríssimos devem ser os centenários que recordem ainda a pneumónica de 1918, conhecida em Portugal por a espanhola, por aqui ter chegado através da Espanha. Em tempos mais antigos, porém, foi a Europa muitas vezes varrida pela peste, nome aplicado a diversas epidemias, nem sempre identificáveis, com especial destaque para a Peste Negra de 1347-52, que matou cerca de um terço da população do continente, causando cerca de 25 milhões de vítimas. É esse o primeiro tema sobre que quero hoje refletir convosco.
I
Nos nossos dias há uma forte tendência para considerar a nossa época como qualitativamente diferente das que a precederam, como uma espécie de éschaton ou meta dos tempos, para além da qual nada de substancialmente diferente se virá a produzir. É a teoria do fim da história, de que houve uma versão marxista-leninista, hoje inteiramente desacreditada mas bem viva ainda há apenas meio século: depois de passar, materialmente falando, pelos modos de produção escravista, feudal e capitalista, a humanidade acharia no modo de produção comunista a sua etapa final, correspondente à perfeição. O regímen comunista constituiria assim o último estádio da evolução do Homem, para além da qual nada se poderia conceber de mais perfeito.
Quando em 1974-75 em Portugal, contra as predições da ideologia, falhou a instauração de um regímen comunista, recorda-me ter visto escrito numa parede, com tanto de verdade como de ironia: “não vos preocupeis: é a realidade que se engana…”
Aquela concepção coaduna-se, em certos aspetos, com a que fora anteriormente exposta por Augusto Comte (1798-1857), que contemplava mais a evolução mental que a material, mas chegava na prática a uma conclusão idêntica. Comte via a história universal como uma sucessão progressiva de três estados ou estádios: o estádio teológico ou fictício, em que os fenómenos da natureza eram explicados pelo recurso a divindades imaginárias que os causariam, o estádio metafísico ou abstrato, em que eram explicados por misteriosas forças invisíveis, e, finalmente, o estádio positivo, o definitivo, em que os fenómenos eram racionalmente explicados pela ciência. Nesse estádio, o derradeiro, não haveria já mais lugar para a religião, que perpetuava os estádios já ultrapassados e impedia o progresso.
Mais recentemente apareceu outra versão, esta capitalista e liberal, da mesma concepção de fim da história. É a que no seu livro The end of History and the last Man expôs Francis Fukuyama em 1992, significativamente na atmosfera de euforia subsequente à queda do Muro de Berlim e ao fim dos regimes comunistas. A história da humanidade seria essencialmente a história da liberdade do indivíduo; consumar-se-ia portanto no momento em que se generalizasse a democracia, a liberdade individual e o liberalismo económico. A partir daí haveria apenas a registar desenvolvimento económico e progresso tecnológico ilimitados. Estaríamos, portanto, já prestes a atingir essa fase final, conquanto subsistissem aqui e além bolsas de resistência a essa felicidade universal, nomeadamente um ou outro regímen autoritário. Quando começou a periclitar o autoritarismo em países muçulmanos como a Tunísia, a Líbia ou o Egito, chamaram-lhe a primavera árabe; faltariam, portanto, três meses apenas para o verão eterno…
Era, uma vez mais, a realidade a enganar-se: à instauração da democracia no Egito seguiu-se o triunfo dos Irmãos Muçulmanos, uma corrente islâmica fundamentalista; à queda de Khadafi o caos na Líbia; e ao esboço de revolução na Síria uma guerra civil que dura ainda.
Para os adeptos desta corrente a bem-aventurança consistiria aproximadamente em ter em casa quatro frigoríficos e seis televisões, e gozar nas praias da Patagónia não sei quantos meses de férias; sobretudo, fruir do inteiro rol das variadas liberdades que todos os dias os políticos nos ofertam, em que brilham como três sóis três sacrossantos direitos: votar, fornicar e abortar…
Para nós, cristãos, a explicação é simples: a eternidade é um atributo de Deus; o Homem vive no tempo, sujeito à mutabilidade das coisas. E, como afirma o adágio popular, “o futuro a Deus pertence” — só Ele o conhece, jamais pode o Homem prevê-lo. Em boca humana jamais cabem nem o nunca nem o sempre. Como afirma o salmo 118 (v. 96): “da mais acabada perfeição vi o termo; só o Teu mandamento é duradouro assaz!”.
Por outro lado, sabemos que Deus é justo; e que não é uma força cega, mas um Ser pessoal, a cuja imagem o Homem é também pessoa. Cada um de nós é uma singularidade irrepetível, como Ele próprio, que no dizer do salmista (Sl 32, 15) “modelou um a um o coração dos homens”. Deus não quer salvar a Humanidade, que é uma abstração, quer salvar os homens. Como poderia Ele ter reservado a felicidade a uma geração futura, e ter deixado, durante milénios e milénios, tantos milhões de homens passarem neste mundo uma vida de aflições e de trabalhos, sem sequer anteverem a felicidade terrestre de que haveriam de gozar os netos de seus netos? Deus é equidistante de todas as idades — é um postulado da própria justiça divina!
Mas se o prémio dos trabalhos é para todos o mesmo, porque não há de ser igual para todos também o preço a que se adquire? Não creio, por isso, que geração alguma, no passado, no presente ou no futuro, esteja isenta da sobretaxa de padecimento e dor que pesa sobre a existência do homem na terra — na prévia certeza de que “os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória que se há de manifestar em nós” (Rom 8, 18).
Pode por isso cada um de nós dizer como S. Paulo na época do seu cativeiro: “neste momento, alegro-me nos meus sofrimentos por vós, e completo na minha carne o que falta às tribulações que Cristo passou pelo seu corpo, que é a Igreja ” (Col 1, 24). E noutro passo (Fil 2, 17), contente de se sentir associado ao sacrifício vicariante de Cristo, que se ofereceu a Deus não pelos seus pecados, que os não tinha, mas pelo pecado do mundo: “Se eu devo ser oferecido como libação sobre o sacrifício e oblação da vossa fé, alegro-me e regozijo-me com todos vós; de igual modo, alegrai-vos também vós e regozijai-vos comigo!”.
II
A segunda reflexão foi-me sugerida por uma conversa que escutei, à porta de uma loja, enquanto esperava fora a minha vez de ser atendido: explicava um velhote que a epidemia se devia aos chineses, que inventaram o vírus e o espalharam pelo mundo, para provocarem uma crise económica e assim poderem adquirir todas as empresas falidas. É evidente que é uma tese que jamais alguém conseguirá provar, mas não foi isso que me chamou a atenção: foi a mentalidade que lhe está inerente.
No meio do racionalismo que de alguns séculos a esta parte domina o pensamento ocidental, pouco espaço há para o mistério. Tudo se explicaria por causas simples que o homem, com um pouco de esforço, seria sempre capaz de determinar. Já há anos, quando caiu a ponte de Entre-os-Rios e morreu uma vintena de pessoas, ouvi na televisão alguém da região afirmar: “é preciso descobrir o responsável, pois tem de haver um responsável…”.
Dentro desta mentalidade não se compreende sequer o que é o concurso fortuito de diversas causas, que uma a uma talvez se possam compreender, mas cuja concomitância permanece inexplicável. É como a água régia, mistura de ácido nítrico e clorídrico, que juntos conseguem dissolver o ouro, embora nenhum deles de per si o alcance. Se dentro de tal mentalidade resta ainda algum lugar para Deus é porque a sua majestade como Criador se impõe instintivamente a toda a criatura; mas não há já espaço para o Diabo!
Se em certa medida se pode afirmar que a cultura contemporânea é marcada por uma certa morte de Deus, raros são os que dão conta de que essa foi de longa data preparada pela morte do Diabo. Não pretendo com isto afirmar que se imponha crer no demónio que tradicionalmente se figura: negro, como filho das trevas que é, com rabo de animal e cornos na testa, a entremostrar que na hierarquia dos seres queda mesmo abaixo do próprio homem, e grande forquilha na mão. O que se não deve perder de vista é que o Mal é um mistério, e que sobre a criação impende constantemente um potencial de maldade, pronto a precipitar-se sobre o mundo se algo o faz entrar em movimento. Pensemos, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Eu era então criança, contava apenas três anos; só me recordo de estar então em Sintra, em casa da minha avó e ouvir subitamente foguetes a estalar no ar e os sinos todos a tocar, e a minha avó, comovida, a dizer-me de lágrimas nos olhos; “acabou a guerra, meu filho!”. Só muito mais tarde vim a entrever o horror que fora.
A Alemanha saíra da Primeira Grande Guerra não só vencida, mas também humilhada e ofendida. Não era a primeira vez que isso acontecia na História; mas na atmosfera de racionalismo e positivismo que dominava a cultura da época, a culpa tinha de ser de alguém. Era mister encontrar um bode expiatório. Acharam-no nos judeus, e decidiram por isso eliminá-los. E foram os horrores de Auschwitz e tudo o mais que não cabe aqui enumerar…
Hitler chegou mesmo a descobrir que a Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola, que era basco — e tinha, portanto, por idioma materno uma língua que não pertencia à família indo-europeia ou ariana — tinha por inconfessado objetivo opor-se aos arianos e assim evitar a supremacia alemã sobre o mundo!
Foi um pouco a mesma coisa no Camboja dos Khmeres Vermelhos: se a Revolução não avançava, era devido aos inimigos do povo, aos exploradores das mais-valias de quem trabalhava e produzia, e a seus aliados confessos ou ocultos. Havia que eliminá-los. Ai de quem soubesse falar francês ou fosse dono de uma simples loja de comércio em qualquer rincão perdido. Não sei exatamente quantas pessoas pereceram. Não é esse o problema: aberta a porta à acusação dos conspiradores, que impediam a História de seguir o rumo que devia, tanto podia morrer um como morrerem todos.
A priori toda a ideologia é perversa, pois, na bela expressão de Henrique Barrilaro Ruas, é “o pensamento a substituir-se ao conhecimento”, ou, se preferirmos, o λόγος ou razão humana a tomar o lugar do Λόγος, o Verbo Divino, num vão esforço para recriar o mundo — vão porque nenhuma ideia humana possui a potência criadora do Λόγος, por Quem todas as coisas foram feitas (Jo, 1, 3). A ideologia implica, frequentemente, que para que se salve a Ideia, pereça o Homem — e assim sucedeu e voltará a suceder sempre que à realidade das coisas se antepuser qualquer ideia humana transformada em deusa, por elevada e nobre que possa ser, como as de igualdade, de liberdade ou de justiça social.
Felizmente para os nossos irmãos anónimos, é difícil achar para uma epidemia um bode expiatório. Nem os americanos a podem imputar ao Irão, nem os proletários aos seus exploradores, nem os nazis aos judeus, nem os burgueses aos indesejáveis comunistas…
III
Este tema conduz-me insensivelmente a uma terceira reflexão. Quando revolvo em mente o contraste entre a violência que implicou o fim do nazismo e a suavidade com que se dissipou o comunismo, sinto a tentação de estabelecer comparações e concluir que este teve uma morte serena porque na sua raiz jazia uma ideia de justiça social, ao passo que aquele acabou em tragédia porque radicava da mera soberba de um povo e da sede de poder de um homem. É, porém, pensamento em que não quero consentir, pois seria uma afronta ao Deus escondido, cujos desígnios nos são opacos.
A tentação do providencialismo é muito antiga: já na época de Constantino escreveu Lactâncio um tratado Sobre a morte dos perseguidores, em que se esforçava por provar que todos os imperadores que perseguiram a Igreja acabaram por morrer de morte violenta. E em águas semelhantes navegou na centúria seguinte o primeiro escritor conhecido do território português, Paulo Orósio, autor de uma História contra os Pagãos. Dele escreveu É. Amann no Dictionnaire de Théologie Catholique: “com um robusto otimismo, ele imagina ter quase penetrado nos desígnios do Eterno; pelo menos, lê claramente, até nos mais pequenos detalhes da história de cá-em-baixo a intervenção de lá-em-cima e a sua significação”. Nos séculos XVI e XVII essa maneira de olhar a História fez escola, facultando bastas vezes aos historiadores uma explicação fácil para o inexplicável.
Se da metodologia histórica esse providencialismo primário despareceu praticamente, na mentalidade do vulgo continua ainda a grassar. Recebi há poucos dias um texto, dos que circulam na internet, em que o autor se interrogava por que motivo, sendo a epidemia um castigo de Deus, fora aparentemente superada já na China, sem grande dificuldade, ao passo que no resto do mundo continuava a causar dano: a punição divina devia atingir sobretudo os países que têm regimes ateus, como é o caso da China…
Aventam outros que Deus estará irado com a imoralidade que — com a conivência dos poderes públicos, que legalizam e até fomentam práticas como o aborto, o casamento homossexual e a eutanásia — invadiu a nossa sociedade, que não só peca como, o que é bem mais grave, perdeu a noção do que é pecado. Colhemos por isso o que semeámos…
O Antigo Testamento fala-nos, de facto, de penas infligidas por Deus aos pecadores, individuais ou mesmo coletivos, como foi nomeadamente o caso de Sodoma e Gomorra; e aí, porque é a Escritura que o diz, podemos afirmar que andou o dedo de Senhor. Podemos também afirmá-lo nos casos em que uma pessoa ou uma coletividade arca com as consequências naturais, ainda que desproporcionadas, dos seus atos — pois a ordem da natureza é obra de Deus e não é impunemente que se infringem as suas leis: fulano morreu de pneumonia porque foi tomar banho ao mar em Janeiro, sicrano quebrou a espinha porque se pôs a escalar um pico montanhoso sem tomar as devidas precauções, e assim por diante. Fora de tais casos é inaceitável presunção afirmar que fulano “teve o castigo que merecia” ou que beltrano “não merecia sofrer o que sofreu”. Só o Deus que perscruta os corações e os rins sabe o que cada um merece!
Melhor do que investigar os desígnios de Deus é exclamar com S. Paulo: “Ó abismo da riqueza da sabedoria e da ciência de Deus! Como são insondáveis seus decretos e incompreensíveis suas vias! (Rom 11, 33).
Enviou-me há dias um dos meus parentes de Goa um judicioso comentário sobre a atual crise escrito por Eugénio Viassa Monteiro, um goês que presentemente ensina em Bombaim, em que cita extensamente um texto redigido por Anne Graham — filha do famoso pregador batista dos Estados Unidos Billy Graham (1918-2018) — a propósito do furacão Katrina, mas que se pode aplicar a qualquer outra catástrofe natural. Apreciei sobretudo a delicadeza com que esta observava:
Penso que Deus estará muito triste com tudo isso, como nós estamos, mas durante anos estivemos a dizer-Lhe para sair das nossas escolas, para sair da vida pública, para sair das nossas vidas… Como gentleman que Ele é, penso que tranquilamente se afastou.
A última frase parece um eco do cântico de Moisés no Deuteronómio (32, 20): “esconderei deles a Minha face, e verei o que lhes sucede, pois são uma geração perversa, filhos infiéis”. Seja como for, a imagem de um Deus que gentilmente se retira, deixando a natureza agir conforme as suas leis, é de longe preferível à de um Deus vingador que castiga prontamente as ofensas que se lhe façam. Contudo, a explicação que a autora dá para esse afastamento do Senhor propende um tanto ou quanto para aquele providencialismo ignaro da transcendência de Deus, que acima criticávamos a Paulo Orósio:
À luz de alguns acontecimentos como ataques terroristas, tiros nas escolas, etc., fico a pensar que tudo começou quando X. X. se lamentou do absurdo das orações nas nossas escolas. E nós dissemos, OK, não há mais orações nas escolas!
Depois, alguém se lembrou que não fazia sentido ler a Biblia na escola (a Biblia diz: não matarás, não roubarás e… ama o teu próximo como a ti mesmo). E nós dissemos, OK. Não há Bíblia!
O Dr. B. S. disse que não devemos bater nas crianças quando se portam mal, porque podemos ferir as suas personalidades e reduzir a sua autoestima (o seu filho suicidou-se). E nós pensámos: um perito sabe do que fala. E dissemos, OK! Está bem. Agora perguntamo-nos porque as nossas crianças não tem consciência do que está bem e do que está mal? E friamente dão um tiro num estrangeiro, ou num colega seu de aula e nelas próprias.
Se O escorraçamos das nossa vidas, das escolas, da vida pública… o que é que podíamos esperar, senão que as forças do mal tivessem livre curso? Inevitavelmente concluímos que “colhemos o que semeámos”. E perante as aflições podemos perguntar-nos, porque Deus deixa que isso aconteça?
Estou também eu convencido de que dentro em breve a nossa sociedade irá pagar caro pelo seus erros; mas não exatamente pela intervenção de um Deus que se vinga, antes pelo mecanismo do homem que se afoga por persistir em ir para fora de pé sem ter aprendido a nadar. Uma juventude educada no hedonismo, no culto da autossatisfação, na religião dos direitos individuais, sem que jamais se lhe fale dos seus deveres, não estará amanhã preparada para enfrentar situações de crise como a que hoje vivemos, em que se requere altruísmo, espírito de sacrifício e sujeição do interesse individual ao bem comum. Disso tivemos uma amostra há dois ou três dias atrás: em Miami, na Florida, um grupo de jovens persistiu em realizar a festa, bem regada com cerveja, que tinham aprazada; resultado: 20 infetados e dois mortos…
É nesse sentido que entendo a citação de Alexander Soljenitize com que Anne Graham remata o seu texto:
Consagrei-me durante 50 anos ao estudo. Li centenas de livros, reuni muitos testemunhos pessoais, publiquei oito obras. Hoje, se tivesse de resumir o mais brevemente possível a verdadeira causa do nosso problema, só teria uma explicação: o homem esqueceu-se de Deus… E se me pedissem que dissesse claramente qual a maior ameaça, ainda assim não acharia outra coisa para dizer, senão que o homem se esqueceu de Deus.
Aprovo assim por isso inteiramente o que se pode considerar a conclusão que de tudo isto retira o meu amigo de Bombaim, a quem devemos o comentário:
A atual crise do vírus mostrou ao homem a sua pequenez… tudo quanto sabe e fez, é zero, nada, incapaz de dominar um miserável vírus! E talvez isso o leve a considerar como a sua arrogância fez expulsar o Criador da sua vida, pondo-O sob suspeita. Talvez seja este o modo de nos trazer à realidade, à situação de criaturas, carentes da proteção do Criador.
Esta conclusão vem assim a coincidir quase inteiramente com um belo ensinamento do ancião Emiliano, arquimandrita do mosteiro de Simonópetra, no Monte Athos, falecido há pouco mais de um ano:
A doença é uma visita de Deus, uma visita divina. A doença humilha-nos, ensina-nos, reforma-nos. Desperta-nos para a realidade e torna-nos capazes de discernir o que é realmente importante e de valor. Não é um castigo, mas uma visita divina para nossa educação e correção.
IV
Desta conclusão tiro pretexto para uma quarta reflexão. Se nos não é lícito dizer que tal ou tal acontecimento sobreveio como castigo de Deus para tal ou tal pessoa, é-nos possível, mesmo desejável, ver nas tribulações que de quando em quando nos afetam apelos do Senhor, que através delas nos educa. Recordemos o ensinamento do próprio Cristo, reportado por S. Lucas (13, 1-5):
Nessa ocasião apareceram alguns a dar-Lhe a notícia dos galileus cujo sangue Pilatos havia misturado com o dos sacrifícios deles. Disse-lhes Ele em resposta: “Julgais que esses galileus por terem sofrido tal pena eram mais pecadores que todos os outros galileus? Não, digo-vos Eu; mas se não vos arrependerdes, perecereis todos igualmente. E aqueles dezoito sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou: julgais que eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, digo-vos Eu; mas se vos não arrependerdes, perecereis todos da mesma maneira!”
De facto, a pedagogia divina tem por vezes de recorrer a modalidades mais fortes, já que, por falta de sensibilidade e atenção, nem todos conseguem apreender as mais fracas. Isso recorda-me o comentário de S. Agostinho ao milagre da multiplicação dos pães, no seu 24º Tratado sobre o Evangelho de João:
Os milagres que fez nosso Senhor Jesus Cristo são deveras obras divinas e movem a mente humana a compreender Deus a partir de cousas visíveis. Já que sua substância não é tal que se possa ver com os olhos, e os milagres pelos quais rege todo o mundo e administra toda a criatura, devido à sua assiduidade, perderam preço, a ponto de quase ninguém se dignar atender às admiráveis e estupendas obras de Deus em qualquer grão de semente, segundo a sua própria misericórdia reservou para si algumas, para as fazer em tempo oportuno, contra a ordem e curso habitual da natureza: para que as admirassem não por serem maiores, mas mais raras que as quotidianas, que perderam o valor. Maior milagre é, com efeito, o governo de todo o mundo que a satisfação de cinco mil pessoas com cinco pães. E no entanto, com aquele ninguém se admira, não porque esta seja maior, mas porque é mais rara. Quem é que agora alimenta o mundo inteiro, senão Aquele que de poucos grãos cria as searas?
V
Tornando às múltiplas lições que se podem retirar da presente situação, contentar-me-ei por realçar só uma, que me parece a principal: a pequenez do homem, como indivíduo, de que falava Eugénio Viassa Monteiro, mas, sobretudo, a fraqueza de todas as criações humanas.
Pelo menos desde a Revolução Francesa que lavra no Ocidente uma tendência, mais ou menos vincada conforme os lugares e os momentos, para substituir a religião de Deus pela religião do estado, novo deus dos nossos dias. Estou crente em que, muito mais que o espantalho do islão que muitos agitam, é esse o verdadeiro inimigo da Europa, pois consome-a por dentro. É verdade que o grande afluxo de muçulmanos, sejam refugiados, sejam trabalhadores em busca de melhor vida, faz temer o risco de ver a Europa cristã afogada em gente moira, como se diz em Goa. É verdade que o terrorismo, que ontem se valia do anarquismo, de marxismo-leninismo ou do maoismo, se estriba hoje quase exclusivamente no islamismo; mas não menos verdade é que a esmagadora maioria dos muçulmanos não são terroristas. De qualquer modo o islão é um sistema que liga intimamente religião e política, e que tem dificuldade em se adaptar fora da proteção de um estado confessional e prescindir do seu poder coercitivo, pelo que uma maioria muçulmana representa realmente uma eventualidade preocupante.
Seja como for, não me parece que resida no islamismo a principal ameaça à civilização ocidental, mas antes no vírus que a corrói do interior. E esse é o confinamento de Deus, como se estivesse empestado, e a correlativa exaltação do estado como um deus.
Sempre gostaram os governantes de se apresentar como superiores aos outros, e em muitas monarquias antigas, como o Egito ou o Camboja de Angkor, o rei era considerado uma divindade. É talvez por isso que expressões como “adorai o Senhor todos os reis da Terra” são recorrentes na Bíblia, particularmente nos salmos. Havia que reduzir os monarcas às suas verdadeiras dimensões!
Hoje, não penso que quejanda concepção possa ser crível. Substituiu-a, porém, uma concepção afim, mais subtil mas não menos perigosa: a divindade do estado. Se o Dalai-Lama é suposto ser uma reencarnação do bodhisattva Avalokiteśvara, “o Compassivo senhor”, o estado moderno olha-se a si mesmo como corporização da racionalidade. Mas não há pior tirania do que a da racionalidade, pois quem se não conforma com quem julga detê-la, a si mesmo se exclui do número dos racionais. E o Transcendente? E o Infinito? Caberão no racional?
Enumeremos algumas aberrações. Por exemplo a constituição mexicana de 1917 afirmava, logo no seu primeiro artigo, que todo o cidadão gozaria de tais e tais direitos, “que lhe concede o Estado”. Por conseguinte o homem não era sujeito de direitos por ser, à imagem de Deus, uma pessoa e um ser livre, mas por magnânima concessão do estado — de que os indivíduos constituiriam, por assim dizer, meramente o conteúdo…
Não é, contudo, só no México jacobino de começos do século XX que topamos com tais desvarios: ainda há bem pouco tempo, salvo erro em 2012, o governo francês decretou que o massacre dos arménios da Turquia em 1915 foi um genocídio, cominando penas a quem o contrário disser. Noutros países é proibido negar o holocausto dos judeus na segunda guerra mundial. Não se trata de punir, genericamente, quem para fins políticos ou semelhantes falsifique a História: trata-se de impor sobre casos bem determinados, uma verdade oficial, que o estado, omnisciente, conhece infalivelmente, embora os cidadãos se possam enganar — e isto para não discutir já esta espécie de neo-nominalismo, para o qual mais importante que as coisas é o nome que se lhes dá. Infelizmente pouca gente nota o totalitarismo latente que se esconde por detrás de tal legislação. E ninguém pensa que se de hoje para amanhã advier um governo anti-arménio ou anti-judaico pode decretar o contrário, e a mentira tornar-se-á verdade, e a verdade mentira…
Em Portugal D. João III criou em 1532 a Mesa da Consciência e Ordens para o ajudar na resolução de casos “que tocavam à obrigação de sua consciência”. Era uma junta de letrados, teólogos, juristas, moralistas, escolhidos pelo seu mérito, que deram muitas vezes sentenças contra o próprio Rei. Em Inglaterra há ainda “tribunais de equidade” que julgam casos não regulados pela lei escrita, conforme o que parece justo e equitativo — em última análise, conforme a lei eterna, de que todo o homem tem uma noção mais ou menos clara; mas na maior parte dos países não há senão “tribunais constitucionais” , que verificam se as leis que os homens fazem hoje estão de acordo com a lei que fizeram ontem.
Em vários países é proibido o uso da burka muçulmana. Porquê? Porque permite que debaixo dela se esconda o assassino ou o ladrão? Porque neutraliza as câmaras de televisão que, para segurança de todos, existem nos supermercados e outros espaços públicos? Não. Porque é um “sinal religioso demasiado visível”! Mas acaso a religião é uma coisa vergonhosa que se não possa manifestar em público? O estado moderno é contudo alérgico à ideia de que acima dele possam existir instâncias mais elevadas…
Sempre houve pessoas que, ou por a ideia de Deus lhes causar incómodos, ou por dificuldade em conceber o Infinito, não acreditaram n’Ele. Disso se queixam já os salmos 13 e 52, que ambos começam pela mesma frase: “Diz o estulto em seu coração: não existe Deus”. No entanto o ateísmo moderno, seja sob a forma virulenta que lhe conhecemos no comunismo ou no nazismo, seja sobre a forma insidiosa que hoje se insinua na nossa cultura, vai mais longe: pretende-se explicitamente construtivo, ou seja, quer refundar o mundo, substituindo ao Universo, concebido e presidido por Deus, um outro, ao sabor da sua Ideia.
Num belo livro, escrito sob a ocupação da França pelos nazis, entre 1942 e 1946, o jesuíta francês Henri de Lubac, após percorrer os grandes desvarios da nossa época conclui, citando um belo texto de S. Gregório de Nissa: banido Deus do mundo, o Homem, feito à Sua imagem perde a razão de ser da sua dignidade. De facto, se ao Universo não preside um Ser livre, inteligente e soberano, o homem queda reduzido a mero dente de uma das rodas dentadas da grande engrenagem em que consiste o mundo. E a máquina do mundo tritura-o.
Suprimido Deus, não é apenas o Homem que fica reduzido a uma peça do mecanismo do cosmo e cessa de ser pessoa: é a hierarquia dos valores que queda sem sentido e sem princípio. A liberdade de religião torna-se mais importante do que a religião em si, o carneiro mais digno do que o Homem, e assim sucessivamente. Daí o politeísmo jurídico que tende a invadir a vida pública. E cada divindade, cada pequeno deus, exige que se lhe erga o seu altar e reclama sacrifícios… Dois ou três exemplos bastam.
Há pouco meses ainda, todos pudemos ouvir na televisão o primeiro-ministro da Dinamarca declarar (talvez na melhor das intenções, só Deus, que perscruta os corações dos homens o sabe ao certo) a propósito do abate de animais nos matadouros: “os direitos dos animais são mais importantes do que a religião”! Direito é, nesta acepção, um título ou prerrogativa que uma pessoa pode exigir ou reivindicar. Muito gostaria de ver ainda um dia, não digo já uma lesma ou uma minhoca, mas um cão ou um gato reivindicar em tribunal os seus direitos… Não seremos nós, seres racionais, que temos deveres para com os animais? Mas adentro da religião dos direitos individuais não há já espaço para deveres. E assim fica a religião, que eleva o homem até Deus e o diviniza, rebaixada a um nível inferior ao dos próprios animais…
E que dizer da sentença magistral que há tempos proferiu um juiz, salvo erro do tribunal europeu dos direitos humanos, sobre os títulos de renda vitalícia que os bancos e mutualidades disponibilizam? É evidente que, para não terem prejuízo, essas instituições de crédito se baseiam sobre o cálculo das probabilidades, levando em conta as estatísticas da duração da vida humana. Ora como toda a gente sabe, as mulheres duram em média mais que os homens, nuns países mais, noutros menos, nalguns cerca de dez anos. Por isso para o mesmo capital os bancos atribuíam aos varões, que duram menos, rendimento superior ao que atribuíam às fêmeas. Decretou porém o tal juiz que essa diferença era ilegal, pois contrariava o princípio inviolável da igualdade dos sexos. Resta agora aos varões um só recurso: apelarem para a Divina Providência de Estrasburgo, reivindicando, ao mesmo título, o direito de viverem tanto tempo quanto as mulheres; e assim ficará resolvido o problema…
E porque não? Se as instâncias humanas se permitem decretar que um homem pode ser mulher de um outro homem e que o género é, graças a uma generosa concessão do estado omnipotente, algo que cada um pode escolher, e não um caráter que lhe imprimiu a natureza?
Não é preciso imaginar que Deus tenha baixado do céu para castigar o homem, semeando no mundo um vírus destruidor: é a natureza muda que, sem proferir palavra, reclama os seus direitos, proclamando que o poder que sobre ela detém o homem tem limites!
O derradeiro exemplo é o mais trágico e o mais elucidativo. Passou-se pelo Natal, há já talvez uma dezena de anos. Um americano, monstruosamente gordo, veio passar as férias do Natal a Itália. À vinda não teve problemas. No regresso, contudo, no aeroporto de Milão levantaram dificuldades ao seu embarque porque não havia cinto de segurança que o abrangesse. Depois de muito discutir e de andar de Herodes para Pilatos acabaram por lhe aconselhar que fosse para Genebra de comboio, pois aí ser-lhe-ia mais fácil embarcar, não sei bem por que razão: ou porque houvesse aí cintos de calibre mais elevado, ou porque fossem menos rigorosos na inspeção, ou talvez porque na cidade em que nasceu a Sociedade das Nações e foram proclamados os Direitos do Homem o compreendessem melhor; não sei. Só que o estratagema não deu os resultados que se esperavam. Também ali lhe levantaram problemas; e foi esperando. E assim, enquanto o caso não era resolvido pelas sucessivas instâncias por que transitou, passou uma semana inteira nos bancos do aeroporto; e acabou por ali morrer.
O homem morreu; mas salvou-se o mais importante de tudo: a ideia da segurança do Homem. Não será assim posta em causa a eficácia infalível das regras que o Homem faz!
Não foi, pois, só em Cartago e no México pré colombino que os ídolos exigiam sacrifícios humanos!
Retomando a bela expressão de Eugénio Viassa Monteiro, “A atual crise do vírus mostrou ao homem a sua pequenez”. E não só: mostrou também a das suas instituições, bem como a fragilidade dos vários ídolos que criou — todos, como o do sonho de Nabucodonosor (Dan 2, 32-43), de pés de barro…
Através da presente epidemia é como se Deus de novo pela boca de Moisés nos dissesse:
Onde estão os seus deuses, o rochedo onde buscavam refúgio? Junto a quem consumiam a gordura das vítimas e bebiam o vinho de suas libações…
Que se ergam e vos socorram e na necessidade vos protejam! (Deut 32, 38).
VI
A história do homem que morreu por o não abranger o cinto sugere-nos que, antes de rematar estes considerandos, façamos uma reflexão mais, que na situação atual se impõe: a fé não pode jamais ser uma desculpa fácil para que não tomemos as precauções se impõem, pois Deus não socorre a quem se deita a dormir. Os antigos Padres consideravam nomeadamente que não tomar medicamentos é um sinal de orgulho, pois corresponde à presunção estulta de que Deus fará por nós o que não faz pelos demais, como se a nossa pessoa fosse algo de especial.
A esse propósito vale a pena recordar a historieta reportada por S. João Cassiano (Conferências, I, ii, 6) entre os ensinamentos do abade Moisés, um dos mestres espirituais do deserto de Scetê, no Baixo Egito:
Que direi daqueles dois irmãos que, como vivessem para lá do deserto da Tebaida, onde outrora estivera o bem-aventurado Antão, movidos de uma indiscrição incauta ao internarem-se na extensa vastidão do ermo decidiram não tomar alimento algum a não ser o que o Senhor por Si próprio lhes facultasse. E como errando pelo deserto, já a desfalecer de fome, os vissem de longe uns Mazices [berberes nómadas considerados muito cruéis] e, contra a sua feroz natureza, os socorressem com pães, um deles, sobrevindo-lhe a discrição, recebeu com alegria e ação de graças os que lhe estendiam, como vindos do Senhor, considerando que sem Deus não sucederia que gente sempre ávida de sangue humano, quando faltos de tudo já desfaleciam, liberalmente lhes dessem o sustento. O outro, porém, recusando o alimento como oferecido por mão de homem, à míngua e à fome se finou. E assim, conquanto ambos de início tenham partido de uma persuasão repreensível, um deles, sobrevindo-lhe a discrição, emendou o que incauta e temerariamente concebera, ao passo que o outro, perseverando na sua estulta persuasão, profundamente falto de discrição, tornou-se culpado de sua própria morte, que o Senhor quis evitar, não querendo crer que tivesse sido por inspiração divina que ferozes bárbaros, esquecidos da própria ferocidade lhe tivessem estendido pães em lugar de espadas.
É por estarmos cônscios de que tudo vem da mão de Deus, mas que tal consciência nos não exclui do número dos filhos de Adão — que, como reza a Anáfora de S. Basílio, o Senhor com justiça, expulsou do Paraíso para este mundo, fazendo-o voltar à terra donde tinha sido tirado — que devemos aceitar com resignação a situação presente, com todas as suas implicações. E dessas não é a menor uma Páscoa no isolamento, privada da consolação da liturgia, a que para o bem de todos somos forçados a renunciar.
VII
Na sua fragilidade humana nenhum de nós pode saber quanto tempo durará a situação presente, nem que consequências terá, a curto, médio ou longo prazo. Tampouco sabemos quantos e quais de nós serão atingidos. Pelo menos as consequências económicas, sofrê-las-emos todos; e ainda que não sejamos diretamente tocados, teremos o nosso quinhão de dor e sofrimento — quanto mais não seja ao ver os outros sofrer, já que quem ama padece, porque se compadece.
Em 261 A. C. o rei indiano Axoca, o primeiro a unificar a Índia, apoderou-se do reino de Kalinga, na costa oriental da península. Foi uma campanha dura, em que pereceram milhares de pessoas, espetáculo de tal modo terrível que o rei se converteu ao budismo, religião pacifista, e, convicto de que “a primeira de todas as vitórias é a vitória da Lei”, desistiu de proceder a mais conquistas. E em vários lugares dos seus reinos mandou gravar uma inscrição em que, além de recomendar aos seus sucessores que se abstivessem de novas guerras, deixava exarado:
Oito anos após a sua sagração o rei amigo dos deuses e de olhar amigo conquistou o Kalinga. Cento e cinquenta mil pessoas foram deportadas; cem mil foram mortas; e muitos mais ainda acabaram por perecer. Desde então, ardentes são junto ao rei amigo dos deuses, o exercício da Lei, o amor da Lei e a pregação da Lei (…). E mesmo os felizes que puderam conservar as suas afeições, uma vez que a infelicidade tocou os seus amigos, familiares, companheiros ou parentes, foi também para eles um violento golpe. Esta participação entre todos os homens é um pensamento que aflige o amigo dos deuses…
Sentimentos idênticos, ou melhores ainda, devemos acalentar nós, os que recebemos a luz do Evangelho. Por isso, sejamos atingidos ou escapemos, na nossa pessoa ou na do outros, todos sofreremos.
Quer nos seus desígnios inefáveis Deus tenha decidido que pereçamos ou pereçam os nossos, quer não, cantemos pois como cantou Habacuc, ao entrever que o triunfo de Deus envolve dor para as criaturas; mas que acima de todo o sofrimento paira a glória do Senhor:
Senhor, ouvi a Tua fama e enchi-me de temor,
contemplei as Tuas obras, fui tomado de estupor. (…)
O Senhor virá de Teman,
e o Santo do monte de Faran,
de um monte sombrio e frondoso.
A sua majestade cobre os céus,
de seu louvor está cheia a terra. (…)
À Sua frente caminha a peste,
jorra a febre de Seus pés. (…)Ouvi e estremeceram-me as entranhas
meus lábios tremeram com a notícia;
a cárie penetrou-me os ossos
e vacilaram os meus passos. (…)
Contudo conclui:
Pode não dar rebentos a figueira;
pode faltar na vinha o cacho,
ser um engano a frutificação da oliveira,
e não darem mais os campos que comer;
podem desaparecer as ovelhas do redil
e dos estábulos os bois.Mas eu exultarei no meu Senhor
rejubilarei em Deus meu Salvador.
O Senhor meu Deus é a minha força,
Ele dará a meus pés a rapidez da corça;
far-me-á subir às alturas, vencedor,
cantando-lhe salmos ao som da minha lira. (Hab 3, 2, 19)
Se tivermos de morrer, morramos ao menos como mártires, na acepção etimológica do termo, ou seja, como testemunhas: testemunhando que, como gostam de repetir os muçulmanos, Allahu akbar, “Deus é o maior!”.
